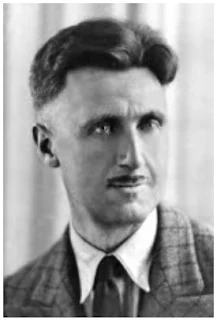DEL PRIORI, Mary e VENANCIO, Renato [1]
Em novembro de 1889, as relações entre o Exército e o governo imperial estavam deterioradas. Falava-se muito a respeito da progressiva substituição dos batalhões da Corte pela Guarda Nacional e até que escravos fiéis à princesa Isabel atacariam quartéis onde houvesse militares simpáticos à causa republicana. No dia 14, novo boato: circula a notícia da detenção, por insubordinação, de Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant, então principais lideranças do Exército. Na manhã seguinte, os acontecimentos se precipitaram. Deodoro, apesar de estar se recuperando de uma doença, toma a iniciativa, decretando a prisão do visconde do Ouro Preto, chefe do Gabinete e presidente do Conselho de Estado; a agitação do Exército toma conta das ruas e é proclamado o fim da monarquia; dois dias mais tarde, a família real embarca para a Europa, rumo ao exílio.
O povo assiste a tudo isso “bestializado”. A quartelada de 15 de novembro foi uma surpresa; o movimento republicano, contudo, não era uma novidade. Durante o período colonial, várias revoltas, a começar pela Inconfidência Mineira, levantaram essa bandeira [veja também: A República do Brasil: história e consolidação]. Nas regências, outro surto republicano varreu as províncias e só a muito custo acabou sendo debelado. Em fins do Império, o dado realmente novo não foi o republicanismo, mas sim o fato de esse movimento envolver agora a nata da elite econômica – os fazendeiros de café paulistas –, e também o de ser politicamente moderado e socialmente conservador.
Embora o 15 de Novembro tenha dado origem a alguns grupos radicais, denominados jacobinos, eles constituíam uma pequena minoria e praticamente se restringiram à cidade do Rio de Janeiro. Em contrapartida, republicanos famosos, como Quintino Bocaiúva e Saldanha Marinho, notabilizaram-se pela política conciliatória, defendendo, sempre que podiam, a ideia de que a nova forma de governo viria por meio de reformas constitucionais, e não pela força das armas, posição, aliás, acatada pelo Manifesto Republicano de 1870, texto que emitia críticas brandas à monarquia, havendo inclusive passagens que reproduziam argumentos há muito compartilhados até por membros do Partido Conservador.
Por esse motivo, costuma-se afirmar nos livros de história que a proclamação da República pegou quase todos de surpresa. No entanto, as condições para a implantação do novo governo eram propícias. Tanto é verdade que, após o golpe, a defesa do antigo regime foi pequena: ocorreu apenas um pequeno levante em São Luís, Maranhão. A maior parte dos monarquistas se restringiu a escrever artigos e livros detratando o governo militar. Um partido defendendo a causa só foi criado seis anos após o golpe. E uma tentativa de trazer a família imperial de volta – uma restauração –, na figura de um dos filhos das princesas Isabel ou Leopoldina, teve fraquíssima repercussão. Só ocorreu em 1902, tendo como palco Ribeirãozinho, pacata cidade do interior paulista. Portanto, entre os grupos dominantes, raros foram aqueles que defenderam d. Pedro II; em contrapartida, desde o início da década de 1870 havia uma enorme quantidade dos que sistematicamente o criticavam.
Os militares, como vimos, tinham razões para estar descontentes: a política de enfraquecimento e de desmobilização das forças armadas significou para eles que de nada havia valido o sangue derramado na Guerra do Paraguai. A fragilidade do regime alimentava-se ainda em outras fontes. A Lei do Ventre Livre descontentou a massa dos fazendeiros escravistas. A abolição sem indenização, cabe repetir, ampliou esse descontentamento, abalando para sempre a confiança que a elite tinha no Império. Entre as elites regionais – principalmente aquelas do Centro-Sul, endinheiradas pelo café –, as queixas também se estendiam ao papel desempenhado pelo Poder Moderador, aos elevados impostos e à representação política desproporcional das províncias.
Vejamos, com mais vagar, a razão de tanta reclamação.
Durante o Segundo Reinado, o governo imperial, a todo momento, interferiu na vida política, impedindo a perpetuação de uma mesma facção no poder. A prerrogativa, facultada pelo Poder Moderador, de interromper as legislaturas e convocar novas eleições, possibilitava isso, mas, por outro lado, tal mecanismo tinha um preço elevado: indispunha d. Pedro com os partidos. Não sem razão, a monarquia passou progressivamente a ser vista como um obstáculo ao pleno domínio das oligarquias regionais. No Centro-Sul, essa queixa aliava-se a outra igualmente importante: apesar da superioridade populacional e econômica, a região mais rica do país possuía uma representação inferior à do Norte e do Nordeste, daí inclusive a aprovação de leis emancipacionistas que tanto contrariavam os interesses dos fazendeiros da lavoura cafeeira. A distribuição desigual de recursos fiscais era outra consequência desse desequilíbrio político. Nos anos 1880, época em que o Império subsidiou, a juros 50% mais baixos do que os cobrados pelo mercado, a criação dos engenhos centrais baianos e pernambucanos – empreendimentos quase do mesmo porte das usinas de nossa época –, foi também o período em que, para cada mil-réis de impostos pagos pelos paulistas ao governo central, apenas 150 réis voltavam como benefícios. A monarquia, dessa forma, foi se distanciando dos segmentos mais importantes das elites regionais, que passaram a defender cada vez mais a descentralização e o federalismo, aliás, principais bandeiras do movimento republicano nascido em 1870.
Como se não bastassem todas essas frentes oposicionistas, a inabilidade política dos monarquistas estendeu-se a outros campos, comprometendo até uma instituição que tinha de tudo para ser sua aliada: a Igreja. No sentido de neutralizar a participação política dos padres – muito ativos nos movimentos separatistas posteriores à independência –, d. Pedro II promoveu bispos que se alinhavam à chamada corrente ultramontana. Tal segmento reunia correntes eclesiásticas que primavam pelo conservadorismo, pelo afastamento do clero das atividades partidárias e por uma defesa intransigente dos pontos de vista da Santa Sé – dizia-se que eles eram “mais papistas do que o papa”.
Uma vez no poder, a nova elite eclesiástica implementou reformas semelhantes àquelas ocorridas no Exército. Em outras palavras, até meados do século XIX, padres que quisessem conseguir uma boa colocação, em paróquias que tivessem prestígio e fossem localizadas em cidades importantes, deveriam contar com o apoio das famílias dominantes, ou seja, deviam ser indicados pelos mandões da terra. Os bispos ultramontanos alteraram essa situação, transformando a ocupação de cargos públicos pelos padres em uma prerrogativa exclusivamente diocesana, mudança que levou a uma “profissionalização” do clero, selecionado, agora, segundo a formação moral, conhecimento e fidelidade à Igreja. De fato, não há como negar que essas reformas implicaram um retraimento da participação política do baixo clero. Em compensação, geraram uma legião de padres sisudos, conservadores até a medula e muito zelosos quanto a questões religiosas. Ora, dentre as diretrizes ultramontanas constava a intolerância a outros cultos, inclusive à maçonaria, animosidade que, neste caso, era ainda mais acentuada devido ao fato de os maçons, no Brasil, serem partidários do liberalismo e defensores do casamento civil e da liberdade religiosa.
Embora subordinado ao imperador pelo sistema de padroado, o clero brasileiro da segunda metade do século XIX passou a pregar abertamente contra os maçons, ameaçando inclusive ministros e políticos importantes, ligados à maçonaria, de excomunhão. Na década de 1870, os ânimos se acirraram, tendo ocorrido, sob acusação de insubordinação, prisões e condenações de bispos a quatro anos de trabalhos forçados, como foi o caso de d. frei Vital Maria e d. Macedo Costa. Apesar de não serem simpáticos à causa republicana, que também defendia o casamento civil, os membros da alta cúpula da Igreja tornaram-se críticos ferozes do governo de d. Pedro II. Por meio de sermões, do sacramento da confissão e, principalmente, da imprensa religiosa, padres e bispos irmanaram-se para expressar essas recriminações, enfraquecendo ainda mais o poder imperial.
Devido ao afastamento das elites civis, militares e eclesiásticas, o fim da monarquia nos anos 1880, se não era almejado, era pelo menos previsto. Paradoxalmente, esse tipo de regime, tido como elitista, tornou-se cada vez mais afastado das classes dominantes brasileiras, tendo como seus principais defensores os segmentos da camada popular. A abolição era a razão dessa repentina popularidade. Entre raros republicanos de origem humilde e negros, como no caso de José do Patrocínio, a medida chegou a levar a uma reconversão política. No meio da escravaria, o impacto foi ainda maior. Aos olhos de muitos libertos, o gesto paternal – ou melhor, maternal – da princesa Isabel teve fortíssimo efeito. Alguns meses após o 13 de Maio, vários deles engrossaram as fileiras da Guarda Negra, com o objetivo de defender o regime, provocando desordens em comícios de republicanos ou atacando-os fisicamente. Na Corte, a organização pró-monarquia chegou a contar com 1.500 filiados, conquistando também adeptos na Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas Gerais, onde consta ter havido paralisações de ex-escravos devido ao fato de antigos senhores, agora transformados em patrões, terem se filiado ao Partido Republicano. A Gazeta de Notícias, em sua edição de 7 de julho de 1888, registrou uma dessas ocorrências: “Informam-nos, diz o Pharol, de Juiz de Fora, de anteontem, que na vila da Sapucaia os libertos pela lei de 13 de maio, sabendo que seus ex-senhores fazendeiros estão organizando um clube republicano, têm solenemente declarado não aceitarem trabalho em suas fazendas por preço algum”.
Aliás, não faltavam motivos para os libertos do 13 de Maio desconfiarem da agremiação política nascida em 1870. Líderes importantes do movimento republicano, como Assis Brasil, citando o exemplo dos primeiros cem anos dos Estados Unidos independentes, viam compatibilidade entre republicanismo e escravidão. A posição oficial do partido não era muito diferente. A facção paulista, por exemplo, defendia que a escravidão não deveria acabar por decreto ou motivada por considerações éticas, mas sim pela lenta difusão do trabalho livre, que tornaria antieconômica a compra de cativos.
Apesar de popular, a Guarda Negra, em razão da perseguição policial, desarticulou-se rapidamente, não sendo capaz de esboçar resistência à proclamação da República. Na realidade, o próprio governo monárquico inviabilizou que esse apoio alcançasse consistência. Durante o Império, o sistema eleitoral era restrito aos homens livres que tivessem um determinado nível de renda. Ora, como o reajuste do que seria esse limite mínimo demorava para ser feito – ocorreu apenas em 1824 e 1846 –, a inflação, ao longo do tempo, acabava facultando o aumento progressivo do número de votantes. No início da década da abolição, cerca de 10% da população brasileira participava do sistema político. À primeira vista, esse índice pode parecer baixo, mas não era: em São Paulo, núcleo central do republicanismo, aproximadamente metade dos homens adultos – incluindo aí ex-escravos e analfabetos – era apta a votar.
Em 1881, porém, uma reforma eleitoral acoplou à renda mínima a exigência de o eleitor ser alfabetizado – critério, aliás, reafirmado pelo governo republicano nos seus primeiros cem anos de existência. O resultado imediato de tal mudança foi uma dramática diminuição do número de eleitores. Na época da proclamação da República, apenas 1% da população participava do sistema político, restrição elitista que inviabilizou, posteriormente, a via eleitoral como um possível recurso para a restauração do regime monárquico.
Por isso mesmo, é possível afirmar que, no processo de consolidação da nova ordem criada em 15 de novembro de 1889, bem mais importante do que a reação dos monarquistas e dos libertos, foram os conflitos que ocorreram no interior do movimento republicano. A começar pela divergência de perspectivas entre civis e militares. Enquanto os primeiros defendiam federalismo ou autonomia provincial, os últimos se mantiveram apegados à noção de regime centralizado, mais ainda, de ditadura republicana. Para compreendermos em que consistiria essa forma de governo, é necessário lembrar que os anos 1870, além do advento do republicanismo, foi acompanhado por uma renovação nos horizontes intelectuais brasileiros.
Conforme expressão de um intelectual da época, no “bando das novas ideias” que chegaram ao Brasil predominavam agora aquelas afinadas ao pensamento científico ou, pelo menos, com o que então se acreditava ser a ciência. O positivismo foi uma dessas correntes. Seus partidários previam o advento da “era positiva”, em que a sociedade – a começar pela política – funcionaria e seria regulada e controlada de maneira científica. O problema todo, porém, era que Auguste Comte, filósofo francês idealizador do positivismo, não via com bons olhos a democracia, o individualismo e o liberalismo, encarando-os como invenções metafísicas. Segundo esse autor, a sociedade moderna deveria ser gerida de maneira autoritária, por um conjunto de sábios voltados ao bem comum, daí inclusive o conhecido trecho de uma máxima positivista: “a ordem por base e o progresso por fim” – lema curiosamente incorporado à bandeira nacional republicana. Não por acaso, esse tipo de filosofia antidemocrática – resultado de extravagante mescla de admiração pelos avanços científicos do século XIX com fórmulas políticas inspiradas no absolutismo do Antigo Regime – conquistou adeptos entre militares brasileiros.
Assim, enquanto as formulações políticas de Deodoro da Fonseca restringiam-se aos ataques moralistas aos bacharéis, que humilhavam ou ameaçavam a sobrevivência do Exército, um grupo de militares positivistas – minoritário e vinculado a Benjamim Constant – introduziu no debate político brasileiro a ideia da ditadura republicana. Tal perspectiva política fez sucesso, sendo também partilhada por aqueles que não seguiam os ensinamentos comtianos. Em 1891, cerca de um ano após sua eleição como primeiro presidente constitucional, o marechal Deodoro deu mostra disso, desrespeitando a Constituição e fechando o Congresso. Uma conspiração militar o forçou então a renunciar. Mas o vice-presidente, Floriano Peixoto, assumiu o poder acentuando ainda mais as tendências ditatoriais do regime. Além de não convocar novas eleições presidenciais conforme previa a Constituição, o Marechal de Ferro contrariou os interesses de diversos segmentos oligárquicos, nomeando interventores militares para os governos estaduais.
A reação não demorou a ocorrer. Devido ao fato de a Marinha ter mantido fortes tradições aristocráticas, esse segmento acabou por espelhar, no início da República, os descontentamentos de parte da elite civil. A Revolta da Armada, de 1893-94, foi expressão disso. Embora um de seus líderes, o almirante Saldanha da Gama, fosse monarquista assumido, tal movimento, longe de ser uma conspiração antirrepublicana, expressou muito mais o descontentamento diante dos rumos tomados pelo novo regime, sendo por isso apoiado por republicanos avessos ao militarismo, como Rui Barbosa.
Em 1893, ao mesmo tempo em que o Rio de Janeiro era bombardeado por navios da armada, ocorreu, no Sul, a Revolta Federalista, na qual os grupos dominantes locais se dividiram entre facções a favor e contra Floriano Peixoto. Este, por sua vez, com o objetivo de conseguir recursos e milícias suplementares para os combates na capital, assim como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, aproximou-se de lideranças republicanas paulistas, abrindo caminho para a transição do poder para as mãos dos civis. Em 1894, com a eleição de Prudente de Morais, foi dado o primeiro passo e, em 1898, com Campos Sales, a transição se consolidou. Inaugura-se então o que se convencionou denominar de política dos governadores, ou seja, o pleno domínio das oligarquias sobre a república brasileira.
Veja também:
- 1889 – A Proclamação da República, a queda da monarquia no Brasil e o fim do Segundo Reinado. In: Brasil Paralelo: que foi o Segundo Reinado?.
- [1] Texto copiado na íntegra (e com adaptações) de: DEL PRIORI, Mary e VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2010, pp., 153 a 158, Capítulo 22.
- [2] Imagem e texto disponíveis em: <O que foi o Segundo Reinado? Principais Características (brasilparalelo.com.br)>. Acesso em: 1º/05/2023.
Fonte / Referência bibliográfica:
- DEL PRIORI, Mary e VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2010.